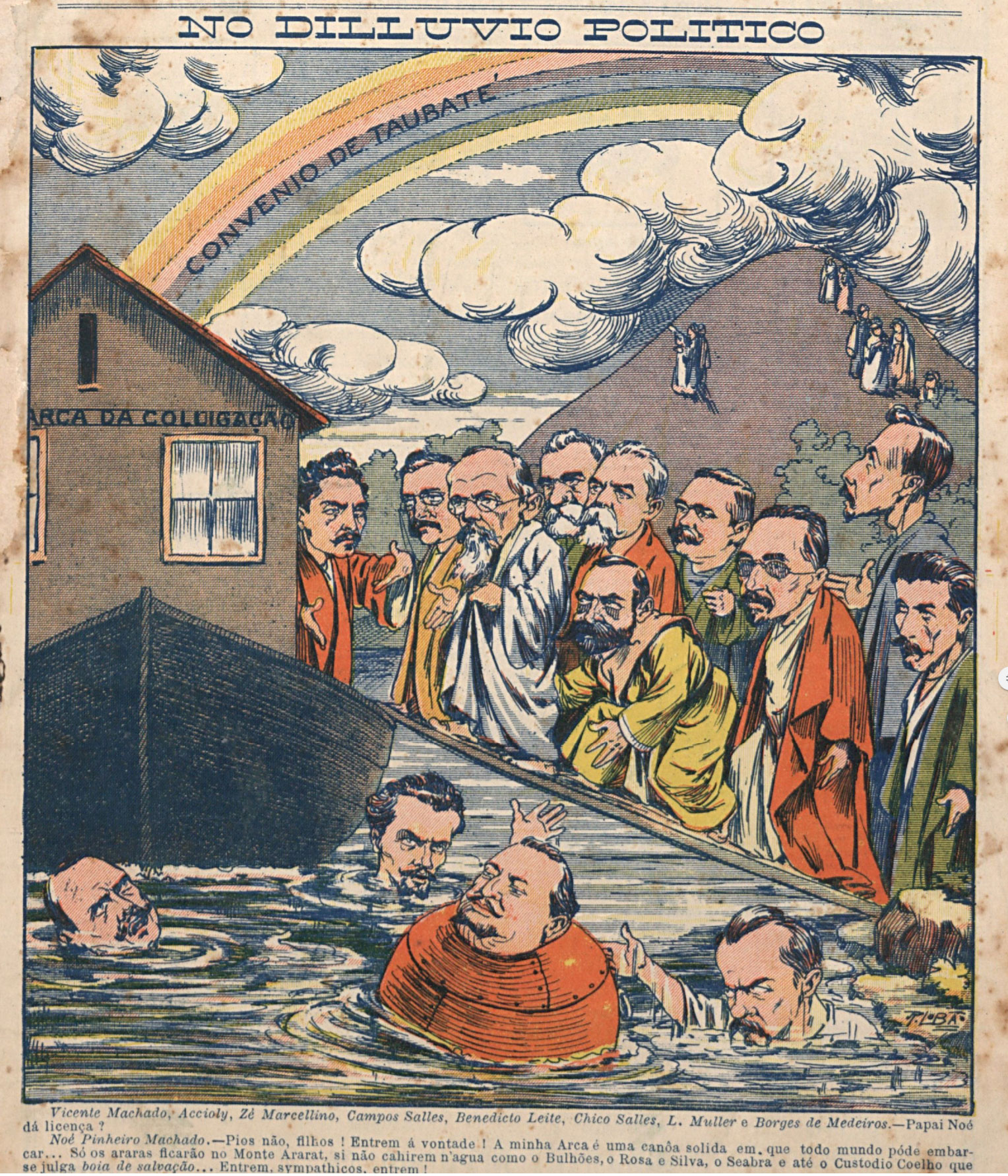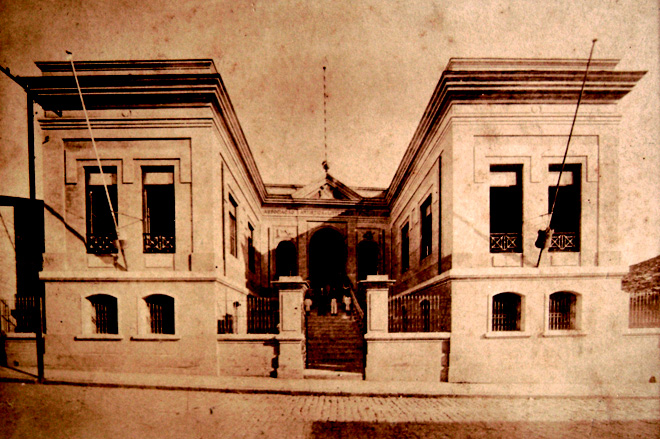Maria Cristina Martinez Soto, ao falar de Taubaté no século XIX, encontra um cenário pouco encantador: pobreza, produzida pela dinâmica da expansão lavoura cafeeira, e violência, produzida pela rigidez da sociedade senhorial. Segundo a pesquisadora, havia pouco espaço para a revolta organizada, sendo assim ela se dava de forma esparsa por meio de atentados aos símbolos do poder (como quebrar vidraças da Câmara ou as lamparinas das praças) ou por meio de crimes e atentados (de escravos contra senhores, etc).

Pode-se inferir que os trabalhadores locais não construíram uma identidade, talvez por estarem ligados ao clientelismo. Ser afilhado do coronel já bastava como uma distinção significativa entre um sitiante e outro. O que temos aqui é a imagem do caipira alienado de sua condição de explorado. Não muito diferente da imagem que temos do caboclo amazônico, refém da natureza e dos patrões.
O símbolo maior dessa precariedade de vida e de consciência talvez seja o seringueiro, principalmente aquele seringueiro pintado por Euclides da Cunha e pelo escritor Ferreira de Castro em seu livro A Selva. Eis aí um homem que se deixa escravizar, no dizer do autor de Os Sertões, demonstrando o quão ele está alheio ao sistema em que adentrou. No meio da floresta vive na penúria, sendo explorado pelo seringalista e pelo regatão (comerciante que navega pelos rios vendendo produtos de primeira necessidade e bugigangas aos ribeirinhos).

Tanto o caipira do Vale do Paraíba quanto o ribeirinho amazônico padecem do mesmo defeito para o pensamento social brasileiro tradicional: São indolentes, ingênuos, acomodados… e alienados. [button url=’http://www.almanaqueurupes.com.br/testedomau/wordpress//?p=1657′ size=’small’ style=’yellow’ target=’_blank’] Já comentamos aqui em outra oportunidade sobre a visão negativa do indígena brasileiro, construída por conta de séculos de etnocentrismo[/button]. Com estes dois personagens não é diferente. Em relação à suas revoltas elas são de imediato consideradas como primitivas, porque as Ciências Sociais geralmente tinham como padrões de resistência aqueles consagrados pelo movimento operário. Então, se não há uma pauta explícita, se não há uma entidade que os representem e de onde eles falam, como podem ser entendidos como movimentos sociais?
Essa visão impregnada pelos moldes das greves operárias desconsidera, por exemplo, as revoltas que aconteciam na Inglaterra do século XVIII que tinham como mote o aumento do preço do pão e a queda de sua qualidade. Revoltas essas muito bem analisadas por Edward Thompson em seu artigo A Economia Moral das Multidões. O historiador britânico enxerga nas bandeiras defendidas pelos camponeses muitos conteúdos que dizem respeito ao seu cotidiano e não reivindicações abrangentes ou mesmo progressistas. Por que elas são importantes? Porque demonstram a construção de uma identidade através da luta constante.

Quando Antônio Cândido em Parceiros do Rio Bonito tenta compreender o mundo caipira encontra na solidariedade a pedra de toque desse viver. Um viver marcado pela instabilidade, como relembra Soto, mas que encontra meios de contornar essa situação justamente por meio de laços comunitários mais fortes. Gerson Rodrigues em sua pesquisa Trabalhadores do Rio Muru, O Rio das Cigarras nos fala de um grupo de seringueiros, dentre outros trabalhadores (mateiros e pequenos agricultores, por exemplo), que resistem à espoliação da agropecuária e dos seringalistas através da união não só com os seus pares, mas com o meio também. Para o pesquisador acreano, essa cumplicidade estabelecida com a floresta, nascida da vivência e dos saberes transmitidos de pai para filho, ajuda na hora de impor seu modo de vida e não um modo de vida mais mercantilizado e utilitarista como queriam muitos beneficiadores de borracha e fazendeiros. Sem o ribeirinho, como saber onde há seringueiras? Sem o seu saber e suas práticas, como extrair algo dessa floresta indecifrável (para os inexperientes)?
Quando Maria Cristina Soto fala de que existiam poucos espaços para a revolta está dizendo que existia pouca liberdade para a ação de organizações de classe ou de outros grupos sociais explorados. Sendo que essas organizações a que se reporta remetem aos moldes dos movimentos tradicionalmente analisados: sindicatos, associações, lideranças… Não se pode desqualificar movimentos só porque dão a impressão de serem atomizados e portanto ineficazes. Essa desqualificação pode sugerir uma imagem de massas domesticadas pelo clientelismo, ou no caso da Amazônia, amansadas pela natureza portentosa. Imagens perigosas por reforçarem velhos estereótipos e até fatalismos (como um que ouvi recentemente: “a Amazônia sempre foi alienada e sempre será”).

Luís Balkar Peixoto Pinheiro critica a singularização da Cabanagem exatamente por esse motivo: ao assumirmos que esta revolta foi única apagamos deliberadamente uma série de revoltas que permeiam a história da região. O caso da revolta do Mata Português em 1874 é emblemático: por muito tempo este acontecimento foi encarado como uma erupção de ódio irracional das comunidades ribeirinhas contra portugueses e maçons, quando fica claro que a identificação de seus perseguidos com a classe dominante revela um descontentamento com o modo como a sociedade amazônica estava estruturada.
Essa mudança de olhar para com as revoltas populares não é gratuita. Pelo contrário, faz parte de uma discussão que vem sendo feita na segunda metade do século XX e tem a Historiografia Social Inglesa como grande polo de discussões. Basta lermos os estudos de George Rudé, Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Raphael Samuel e de Edward Thompson. Como diria Croce, toda história é uma história do tempo presente e o que os historiadores britânicos vinham discutindo não podia deixar de ter relação com o momento em que viviam. Senão vejamos, nos anos 60 temos a ascensão do movimento contracultural, que fugia á regra da Guerra Fria ao exigir uma mudança muito mais comportamental que político-econômica – não quer dizer que eles rejeitassem a política; só não queriam fazer política pelo meio institucional que consideravam já viciado. Nos anos 70 e 80, no Brasil em particular, assistimos grandes manifestações que surpreenderam até mesmo a ditadura militar. Falo das greves no ABC paulista, quando associações de bairro, comunidades eclesiais de base, clube de mães e organizações de trabalhadores (na falta de um sindicato, fechado pelo governo, e na prisão de seus líderes) se unem por semanas.

Os movimentos que se apresentam no século XX passam a questionar os padrões de resistências que as Ciências Sociais até então acreditavam serem essenciais, afinal eles se realizavam sem lideranças certas e através de instituições que estavam mais ligadas à comunidades que à categorias de trabalho necessariamente. E o mais importante: a solidariedade se impunha com mais força que a consciência política – e em muitos casos originando uma conscientização.
Eder Sader é figura de proa nessa discussão sobre os novos movimentos sociais. Ao analisar as greves de 1978 aponta como responsável principal pela “politização do cotidiano” o desencanto com a política tradicional. Num contexto de ditadura militar, há poucos a quem recorrer. O mais confiável passa a ser seu colega de trabalho ou seu vizinho, reforçando assim laços de solidariedade. Criando assim, segundo Sader, o sujeito coletivo.
Essa nova visão tem direcionado uma reinterpretação do passado e do futuro. Eurípedes Cunha Dias, por exemplo, enxerga algo comum nas revoltas populares do passado: o desejo de maior liberdade, onde nem sempre a solidariedade foi decisiva. Carlos Henrique Pissardo ao analisar as manifestações atuais lhes atribui uma linhagem histórica que perpassa pelos movimentos de 1978. Defender a diminuição da passagem de ônibus, a desilusão com a política partidária, a difusão de manifestações, tudo isso lembra a “politização do cotidiano” celebrizada por Eder Sader.

O filósofo polonês Zygmunt Bauman é um grande crítico da modernidade que vivenciamos por dissolver laços duradouros e coletivos e por isso enxerga a maioria dos movimentos dos últimos anos mais como “explosões” que verdadeiros ataques ao capitalismo. O motivo é um tanto óbvio: o sentimento de pertencimento a uma comunidade, a solidariedade, se perdeu com a ascensão do individualismo. Para ele há a hegemonia do sujeito individual, digamos assim. Então, o que podemos dizer de hoje? É o sujeito coletivo ou o sujeito individual que estão em cena? Ou ambos estão em cena ao mesmo tempo? Qual o papel da solidariedade nesses movimentos? As redes sociais promovem tal vínculo?

As perguntas não param por aqui e são extremamente necessárias. O que estamos acompanhando frustra muitos analistas por ser algo grande demais e diverso demais, cuja definição escape a um rótulo em especial, cuja compreensão ainda necessita de tempo para se afirmar melhor.
_______________________