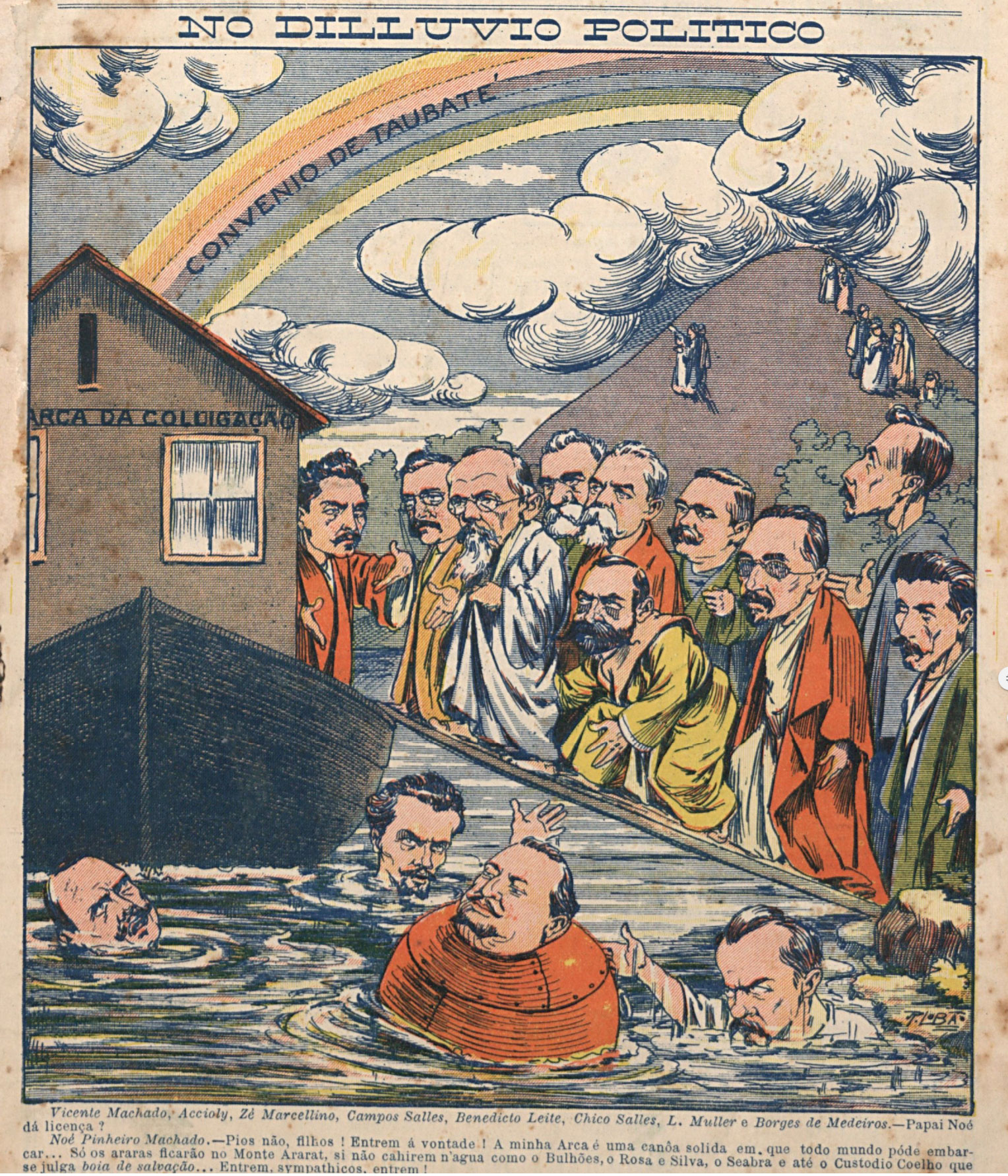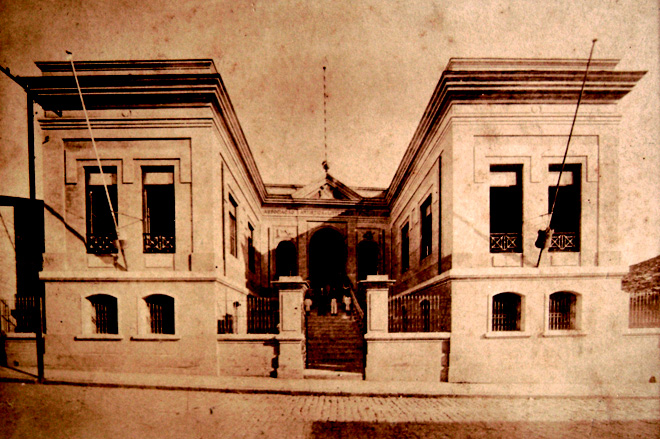Texto de Celio Moreira
Um momento de prazer para a criança é quando a mãe grita: o almoço está pronto! Em nossa casa a refeição tinha hora certa para ir à mesa. Quando mamãe começava a tirar o arroz eu ficava como carrapato em sua saia e sequioso para que me desse a panela com a rapa que ficava grudada no fundo. Ali era o ponto em que, para mim, o sabor do arroz, aliado ao tempero e ao jeitinho com que era cozido, atingia as raias do sublime. Até hoje não provei nada igual! E minha mãe se tornava a grande maga da cozinha ao transformar em iguarias as estranhas preferências alimentares de papai, tipo cérebro de boi, tripa de porco, ova de peixe- sei lá mais o que. O fato de saber que aquilo teria que correr goela abaixo causava arrepios. Mas, ai daquele que se insurgisse contra o cardápio. Ele estava ali, sério, como enérgico professor, pronto para aplicar o corretivo. E mais: ninguém podia rir!

Aproveitávamos, então, para escrever gracinhas num papel colocado sob os pratos, expediente que colocava em cheque o primeiro que não contivesse o riso. Afora os “exóticos” (ainda bem!), as variações se constituíam em verdadeiros deleites para o paladar: macarronada, frango caipira ao molho pardo, bolinhos de bacalhau, croquete de carne e a campeã, língua empanada, uma gostosura que levei para comer, certa vez, numa das sessões do Cine Palas. O aroma do petisco logo se espalhou na platéia e foi sentido por minha mãe que cutucou meu pai e falou baixinho: “Nossa Isauro! Estou sentindo cheiro de língua empanada! Será que o Célio trouxe pra comer aqui?!” Ela riu muito quando falei que era eu mesmo quem a estava degustando. Determinados pratos impunham à minha mãe muitas horas na cozinha. A língua, por exemplo, ficava cozinhando por muito tempo no fogão a lenha e só terminava tarde da noite quando era retirada a última camada de pele que envolvia a parte principal: a carne. Sempre acompanhei minha mãe quando caprichava o prato que eu mais gostava. Lamento não ter anotado todos os temperos que usava.

“Vai pra cama, menino” – dizia ela. “Amanhã tem mercado. Você vai trazer um frango pro domingo”. Frango a gente comprava num anexo do Mercado Municipal, próximo ao local da barganha. As aves eram expostas com os pés amarrados em fibras de embira e suspensas num pau sobre o ombro dos vendedores. Frango abatido, sem penas, não havia. Esse trabalho era feito em casa, com água fervente. Se fosse “ao molho pardo” cabia a mim a extração do sangue. Nesta hora tinha muito mais pena que o frango! Ainda assim, prendia suas asas com os pés, tirava a penugem do pescoço para abrir um pequeno corte e o sangue começava a escorrer sobre um prato. Não sabia avaliar a maneira menos cruel para se abater um frango. Mas, para qualquer outro prato, o que se fazia era esticar o pescoço do coitado e pendurá-lo no varal de cabeça para baixo. O sangue descia à cabeça e ele expirava rapidamente. Meus irmãos jamais assistiam a cena. Porém, alguém tinha que fazer. E estava sempre pronto para ajudar minha mãe. Houve um dia em que ela se sentiu indisposta e foi deitar. Minha irmã tinha ido à casa de tia Ermínia e, para completar o almoço, tive que bancar o “mestre cuca”. Então, ficava correndo da cozinha ao quarto, e vice e versa, para colher informações. E agora, mãe? Veja o fogo. Não deixe secar o arroz! A senhora quer que eu frite os pastéis? Não, menino! Que é isso?!

Já vou levantar. E pastel tem que sair da frigideira para a mesa!
Na manhã seguinte, bem cedo, eu estava chegando ao Mercado com a missão de escolher um bom frango para o domingo. A Selaria já estava de portas abertas para mais um dia de trabalho e, como sempre, cheguei para bater um papo com os irmãos Cugino, hábeis na arte de trabalhar o couro e aficionados nos instrumentos de corda. Ali passava bons momentos ouvindo o som de um violão ou bandolim e aprendendo alguma coisa. Com certeza, ao retornar a casa, levaria um “pito” pela demora, mas ainda teria que passar no bar dos irmãos Farid e Felix Demétrio, no outro lado da Praça, para matar a saudade e ganhar um doce, como era de praxe. Eles foram, por algum tempo, os donos do bar na esquina da Rua Barão com a Nove de Julho, perto de nossa casa. Bati um papo, comi o doce, claro, e prossegui contornando a Praça, admirando as bancas lotadas de frutas e verduras. Parei um pouco na barganha onde a troca de relógios e a venda de uma infinidade de bugigangas corriam a todo vapor. Foi exatamente ali, que vi meu tio Oscar. Ele morava próximo ao Mercado e caminhava em direção à sua casa. Como sempre elegantemente vestido: paletó, chapéu e gravata. Apertei o passo, cheguei bem perto e falei: a benção, tio! Mas ele continuou andando, nem olhou. Mais uma vez, me aproximei dele e repeti mais forte: sua benção, tio! Não houve resposta. Virou a esquina e seguiu passo firme. Que estranho, pensei. Tenho certeza que sonhei esta noite com meu tio; que estava exatamente aqui; que, também, pedi a benção por mais de uma vez e ele seguiu caminhando em silêncio. Muito estranho!… Tio Oscar era um homem bom, espírita. Dedicava muita atenção à todo e qualquer problema que envolvesse a família. Gostávamos muito dele. Recentemente havia almoçado com a gente e depois que se despediu de todos e, por último de minha mãe, notei que ela se esforçava para esconder as lágrimas.
“Que foi mãe, porque está chorando?”
“Ah, meu irmão disse que veio se despedir de nós.”
“Vai viajar?!”
“Não, filho, ele disse que vai deixar esta vida e pediu pra gente não ficar triste, nem chorar”.
“Então, pare, né mãe!”
E, como toda criança que não se preocupa com nada, pouco tempo depois jogava bola no terreno desocupado pelo Exército. Foi quando minha irmã veio avisar: Célio, prá casa, já! Tomar banho e se arrumar! Temos que ir à casa de tio Oscar… Ele morreu.
[box style=’info’]Celio Moreira
 conhecido também como O Sombra, do Jornal de Vanguarda, é um dos grandes profissionais de comunicação da história do jornalismo nacional.
conhecido também como O Sombra, do Jornal de Vanguarda, é um dos grandes profissionais de comunicação da história do jornalismo nacional.
[/box]