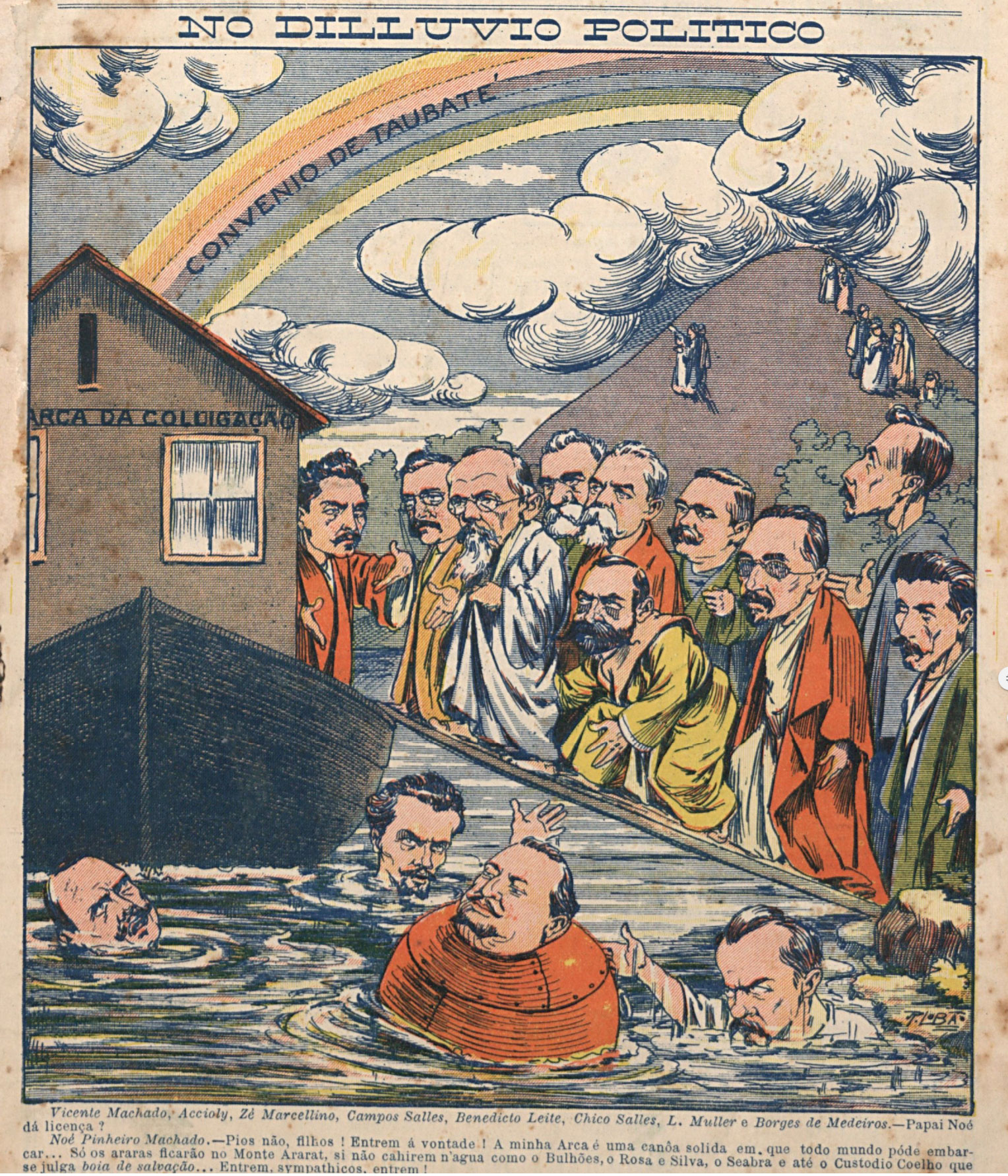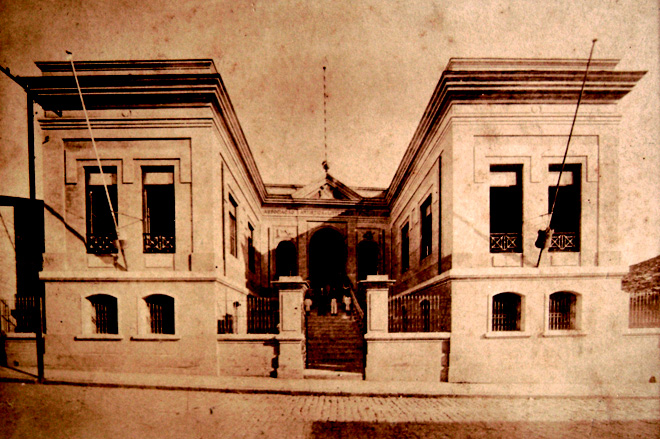Walter Benjamin era mais que um acadêmico, mas um profundo conhecedor da vida nas ruas e nos becos. Para ele a experiência de vivenciar a cidade era também uma forma de investigação. Um método de pesquisa menos rigoroso, mas nem por isso menos revelador, é proposto pelo filósofo alemão: utilizar nossas impressões e nosso senso crítico como revisores da realidade, principalmente do cotidiano urbano.
Eis que Benjamin identifica nas famosas galerias de Paris – um conjunto de lojas luxuosas que se estendiam por um longo corredor, com enormes vitrines – traços flagrantes da modernidade enquanto sistema econômico e cultural. A observação aliada à reflexão, eis a fórmula.
Nem preciso dizer que depois de Benjamin muitos pesquisadores arrumaram uma boa desculpa para flanar pela cidade. Admito que sou um deles. E, na realidade, andar por Manaus tem me ajudado a entender a história da região tanto quanto a pesquisa em arquivos – que pelos motivos de sempre, tende a ser sempre frustrante.
Digo isso por que recentemente pus-me a pensar sobre os reflexos do regime civil-militar no Amazonas e encontrei muitos pontos interessantes para o tema justamente pelas ruas da cidade. A começar pela cartografia urbana. Em palestra recente, o Prof. Aloysio Nogueira de Melo destacou uma característica de dois barros tradicionais de Manaus: a Cachoeirinha e a Adrianópolis. O primeiro conserva em suas ruas os nomes dos municípios amazonenses, já o segundo coleciona os nomes dos estados brasileiros. Bem, a partir dos anos 70 isso muda: agora elas passam ser nomeadas em homenagens aos grandes representantes da “Redentora”.

Assim, a Avenida Uapés, uma das mais conhecidas vias da Cachoeirinha, se torna a Avenida Castelo Branco. Mas conjuntos habitacionais também levaram o nome do primeiro marechal presidente. Ora, o que dizer do Conjunto Habitacional 31 de Março? Uma vinculação mais explícita ao regime é impossível. O curioso é que até hoje se comemora o aniversário do bairro no pretenso dia do golpe, sem que a maioria dos moradores esteja ciente dessa sinistra ligação.
A nomenclatura urbana acompanha as mudanças no tecido urbano de Manaus. A partir dos anos 70 a cidade realmente incha e o motivo desse crescimento desordenado se encontra no número 1.424 da Avenida Mário Andreazza: a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Poucos sabem, mas a Zona Franca já foi Porto Franco: o primeiro a propor a ideia foi o político alagoano Tavares Bastos de passagem por Manaus por ocasião da abertura da navegação dos rios amazônicos para as nações internacionais ainda no século XIX, no entanto, na década de 1950 o poeta Francisco Pereira da Silva no exercício de seu mandato enquanto deputado estadual ressuscitou o projeto, acreditando ser uma das formas disponíveis para recuperar o estado amazonense da crise provocada pela borracha. O novo regime de 1964 fez algumas alterações, elegendo a indústria como principal foco e não o comércio.
Acontece que eles entendiam o comércio como consequência do desenvolvimento industrial. E sejamos sinceros, o comércio varejista foi um dos muitos beneficiários da instalação da Zona Franca. Um rápido passeio pelo centro da cidade pode surpreender ao turista, pela quantidade de importadoras e distribuidoras em tão pouco espaço. Nem precisa ser um passeio a pé: o trânsito caótico de Manaus é consequência desse projeto também. Existem mais de quatro mil veículos na cidade percorrendo vias e trajetos antigos, projetados quando a cidade ainda possuía seus mil habitantes. A modernização prometida chega apenas no consumo que por ser um sedutor irresistível atraiu muitos ribeirinhos para a capital. Exatamente o contrário que o regime militar pretendia, uma vez que sua intenção não era apenas desenvolver a região, mas ocupa-la e protege-la de ameaças subversivas (leia-se aqui comunistas).

As invasões se tornaram a forma de habitação por excelência dessa nova Manaus. Os bairros de São José Operário e Compensa são exemplos disso. Este último se tornou um caso notório desse conflito pela terra por conta das inúmeras escaramuças envolvendo a família Borel, proprietárias das terras invadidas, e os novos moradores que atravessaram as décadas de 70 e 80. Hoje casos de reintegração de posse pipocam nos jornais.
Mas não é só na nomenclatura e na habitação que a ditadura militar é representada em Manaus, mas principalmente através do silêncio. Sim, esse silêncio denunciador sobre o período. Afinal, por que este momento essencial e recente de nossa história é pouco abordado? Não só pela mídia, mas pelos próprios pesquisadores regionais? Primeiro, porque é um tema comprometedor: muitos aliados e membros deste regime ainda se encontram aí pelas ruas e pelo poder. Romper o silêncio é se tornar um alvo de sua fúria. Em segundo lugar, pelas dificuldades inerentes á este tipo de pesquisa: a escassez de fontes (desaparecida voluntariamente ou não) e o medo (de relembrar traumas ou mesmo de revelar ações vergonhosas) de depor.

Claro, estamos com o representante regional da Comissão da Verdade aí fazendo um belo trabalho de romper com este silêncio, mas diante de quase 50 anos de esquecimento temos de convir que a tarefa não parece nenhum pouco encorajadora. Tal realidade, contudo, não é motivo para jogarmos a toalha. Afinal, a própria cidade pulsa memórias e sentimentos recusando o limbo a que foram destinados. Fazer estas experiências serem ouvidas é não só uma responsabilidade do historiador, mas do cidadão. “Ontem” e “hoje” são ilusões. O passado não acabou e a verdade não sumiu.
[box style=’info’] Vinícius Alves do Amaral

é licenciado em História pela UNINORTE
[/box]